






































































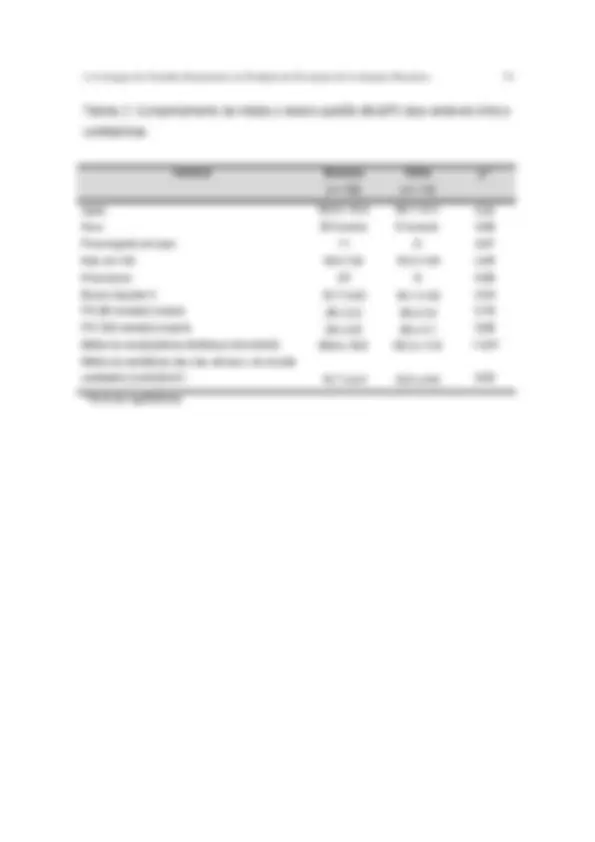























Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
artigo sobre desmame da Ventilação mecanica
Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas
1 / 142

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!







































































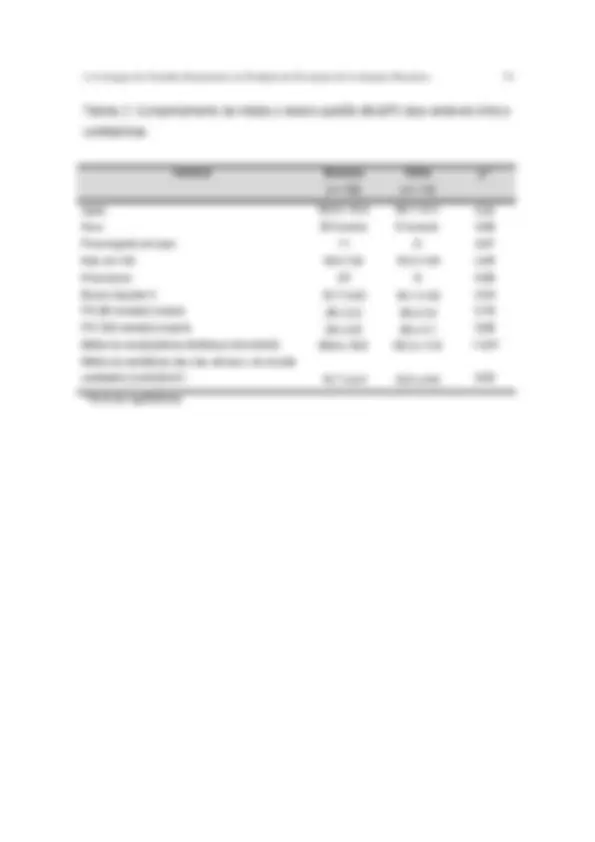





















Tese submetida à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para obtenção do Grau de Doutor em Medicina: Pneumologia
Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2004
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Medicina, área de concentração: Pneumologia
Orientador: Prof. Dr. Paulo José Zimermann Teixeira
Porto Alegre
2004
“Os objetivos da vida são: Ser feliz e fazer alguém feliz, O resto se da um jeito.” Cassiano Teixeira
Agradeço aos meus pais, tios, primos e avós. Aos amigos verdadeiros e afilhados. Em especial ao Paulo e a Patrícia, pois sem eles nada teria acontecido.
APACHE II – Escore de Avaliação Fisiológica Aguda e Crônica de Saúde C (^) din – Complacência Dinâmica CO 2 – Gás Carbônico CROP – Fórmula que compreende a Complacência Dinâmica, Freqüência Respiratória, Índice de Oxigenação e Pressão Inspiratória Máxima CV – Capacidade Vital DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica EMG - Eletroneuromiografia FR – Freqüência Respiratória f/V (^) T – Índice de Respiração Superficial O 2 - Oxigênio P (^) 0.1 – Pressão de Oclusão das Vias Aéreas PaO 2 - Pressão Parcial de Oxigênio Arterial PaO 2 / FIO 2 – Razão entre a Pressão Parcial de Oxigênio Arterial e a Fração Inspirada de Oxigênio P (^) br – Pressão Barométrica PCO 2 – Pressão Parcial de Gás Carbônico Arterial PCO (^) 2muc – Pressão Parcial de Gás Carbônico Intramucoso Pdi – Pressão Transdiafragmática PEEP – Pressão Positiva no Final da Inspiração Pes – Pressão Esofágica Pga – Pressão Gástrica PAM – Pressão Arterial Média PAS – Pressão Arterial Sistólica P (^) avs – Pressão de Abertura das Vias Respiratórias P (^) ca – Pressão Carinal pH (^) i – pH intramucoso PI (^) máx – Pressão Inspiratória Máxima P (^) máx – Pressão Máxima das Vias Aéreas
PSV – Ventilação com Pressão de Suporte RRS – Respiração Rápida Superficial SAPS – Escore Fisiológico Agudo Simplificado SIMV – Ventilação Mandatória Intermitente Sicronizada TET - Tubo Endotraqueal TI – Terapia Intensiva TI / Ttot – Razão entre o Tempo Inspiratório e o Tempo Respiratório Total TTdi – Índice Pressão-Tempo UTI – Unidade de Terapia Intensiva VAC – Volume de Ar Corrente VETT (SBT) – Ventilação Espontânea com Tubo T (Spontaneous Breathing Trial) V/M – Volume Minuto VM – Ventilação Mecânica VNI – Ventilação Mecânica Não Invasiva VO 2 – Consumo de Oxigênio Global VO (^) 2resp – Consumo de Oxigênio da Musculatura Respiratória Δ VO 2 – Diferença entre o Consumo de Oxigênio Respiratório e o Consumo de Oxigênio Corporal Total W – Trabalho Respiratório W (^) el – Trabalho Respiratório Elástico W (^) res – Trabalho Respiratório Fluxo-Resistivo W (^) VM – Trabalho do Circuito Ventilatório
A evolução tecnológica das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o surgimento de novas técnicas de monitorização e de tratamentos inovadores, aumentaram a credibilidade e complexidade da especialidade e levaram a publicação de dados mais consistentes sobre regimes e formas ventilação mecânica invasiva (VM). A aplicação da VM superou a indicação de substituição temporária da capacidade respiratória para a manutenção da vida, alcançando a importância de especialidade médica com capacidade de diagnosticar e tratar doenças pulmonares reconhecidas pela gravidade de apresentação. O desenvolvimento de técnicas especiais como: aplicação de pressão positiva no final da expiratória (PEEP), ventilação líquida, por alta freqüência, não invasiva e em posição prona, reduziu o número de complicações atribuídas a VM e aumentou a sobrevida dos pacientes criticamente doentes. O estudo do suporte ventilatório invasivo constitui uma das áreas médicas com maior quantidade de estudos clínicos. Sua riqueza de detalhes subdivide-a, a cada patologia nova estudada, transformando-a numa sub- especialidade médica individualizada e em constante crescimento. O desmame ventilatório, retirada do paciente do suporte por pressão positiva e retirada da prótese respiratória, ocupa lugar de destaque por preencher um terço do tempo total de ventilação mecânica invasiva. Suas técnicas e modos de execução ocupam são revisadas continuamente nas revistas especializadas e são estudadas por todo o mundo.
Os primeiros aparelhos de VM surgiram para fins de anestesia e tratamento cirúrgico de doenças esofágicas, evitando a morte dos pacientes pelo pneumotórax iatrogênico necessário ao acesso cirúrgico deste órgão (TERZI E CARVALHO, 2000). Duas técnicas eram empregadas na época: a. Ventilação pulmonar por pressão negativa: a ventilação era obtida por oferta de pressão negativa extratorácica intercalada a períodos de repouso pressórico, oferecidos por um dispositivo hermeticamente fechado ao redor do corpo (“ pulmão de aço ”) ou da caixa torácica e abdômen (“ couraça tóraco-abdominal ”). A abertura das vias aéreas dava-se pela manutenção da cabeça do paciente no exterior do compartimento e em contato com a atmosfera; b. Ventilação pulmonar por pressão positiva: a ventilação era obtida por oferta de pressão positiva através de máscara facial ou canulação da laringe ou traquéia. Inicialmente foi realizada por técnica de narcoventilação (pressões inspiratórias contínuas) e posteriormente por insuflações inspiratórias manuais ou programadas e intercaladas com períodos de repouso pressórico expiratório. Em meados do século XX, um grave problema de saúde pública assolou a Europa. Os surtos epidêmicos de Poliomielite Anterior Aguda dizimavam comunidades e causavam danos neurológicos graves quando não a morte dos pacientes. A medicina assistia impotente, a cada verão, as tristes estatísticas dos surtos. Drinker (engenheiro), Shaw (fisiologista) e McKhann (médico), pesquisadores da Universidade de Harvard, em 12 de outubro de 1928 experimentaram a ventilação pulmonar por pressão negativa em humanos com poliomielite. O “pulmão de aço” apresentou um sucesso significativo, porém temporário, e as taxas de mortalidade permaneceram elevadas. Ao contrário da
para a beira do leito e incorporados a monitores multiparamétricos que permitiam a avaliação em tempo real da fisiologia do sistema respiratório e das aplicações clínicas das diversas modalidades ventilatórias. Doenças específicas foram estudadas, diagnósticos novos descobertos e regimes ventilatórios individualizados para cada doença. A necessidade de cura das doenças e o momento ideal para descontinuação do suporte ventilatório invasivo passaram a ocupar lugar de destaque no estudo médico.
Apesar da evolução das técnicas de monitorização respiratória e o melhor conhecimento da fisiopatologia da falência respiratória, as indicações de VM, descritas há décadas, permanecem atuais (GONÇALVES, 2000). O emprego precoce da VM visa evitar o desenvolvimento da fadiga muscular respiratória que, além de ameaçar a vida dos doentes, gera lesão microscópica das fibras musculares diafragmáticas (GONÇALVES, 2000). O aspecto clínico parece superar a análise de exames laboratoriais e de mecânica respiratória, principalmente quando a intubação está indicada em casos de risco de vida imediato para o paciente. A instituição da VM deve ocorrer nos casos de (ALDRICH E PREZANT, 1994; JUBRAN E TOBIN, 1998):
Consiste num dos capítulos mais estudados na Terapia Intensiva (TI) e abrange desde a redução do suporte ventilatório invasivo até a retirada da prótese respiratória. A importância deste assunto é facilmente confirmada pelo fato de aproximadamente 40-42% do tempo total em que o paciente permanece em VM ser gasto na tentativa de retirá-lo do aparelho (ESTEBAN et al, 1994). O termo desmame, em senso estrito, refere-se à lenta redução da quantidade de suporte ventilatório, com o paciente gradativamente assumindo a sua ventilação. A literatura, porém, conceitua desmame como todo o processo de descontinuação da VM, incluindo desde a redução do suporte ventilatório, retirada da prótese respiratória e adequada tolerância 48 horas após a extubação (ESTEBAN et al, 1999). Os fatores clínicos e fisiopatológicos que determinam a habilidade em tolerar a descontinuação do suporte ventilatório são: habilidade de troca gasosa (hipoxemia), fatores psicológicos (ansiedade, pânico e insegurança) e capacidade contrátil da musculatura respiratória. Os problemas de performance da musculatura respiratória representam as causas e são detalhados no quadro 1 (JUBRAN E TOBIN, 1998).
ventilatório ainda não é bem entendido e os autores, até o momento, têm dificuldade em comprovar uma correlação. COHEN et al. (1982), utilizando eletromiografia diafragmática (EMG) e GOLDSTONE et al. (1994), aplicando medidas de pressão transdiafragmática (Pdi) em 9 pacientes, demonstraram relação entre testes específicos para fadiga e sucesso no desmame. Já SWARTZ e MARINO (1985), avaliando Pdi em 9 pacientes que falharam no desmame demonstraram que as ondas de pressão permaneciam elevadas apesar da progressiva retenção de CO 2 , demonstrando que a falha no desmame não era conseqüente à fadiga diafragmática. Os resultados contraditórios dos estudos não reduzem a importância das tentativas de correlação entre falha no desmame e desenvolvimento de fadiga muscular. Cabe ressaltar que estas técnicas de avaliação (pressão inspiratória máxima – PI (^) máx , pressão transdiafragmática – Pdi, EMG e índice tensão-tempo – TTdi**) foram aplicadas a voluntários normais e, talvez por este motivo, não tenham se relacionado adequadamente aos pacientes criticamente doentes (TOBIN E LAGUI, 1998).
A fadiga é reversível somente pelo repouso e, para a musculatura respiratória, isto significa necessidade de suporte ventilatório. Um ciclo vicioso então está instalado. Tentativas mal sucedidas de desmame levam a períodos consecutivos de fadiga e posterior dano estrutural da fibra muscular. Por outro lado, tentativas de minimizar o risco de fadiga postergando o início do desmame geram repouso exagerado da musculatura e conseqüente atrofia pelo desuso, entre outras complicações (TOBIN et al, 1997). O desenvolvimento de um padrão respiratório tipo “respiração rápida superficial” (RRS), isto é, redução do VAC associado com aumento progressivo da FR, representa um mecanismo precoce de adaptação da musculatura respiratória na tentativa de manter a eficácia ventilatória (JUBRAN E TOBIN, 1998). O padrão de RRS leva a hiperinsuflação pulmonar e, devido à posição desfavorável da curva tensão-comprimento, aumento do raio de curvatura e orientação medial das fibras musculares diafragmáticas, reduz a força e a endurance dos músculos respiratórios (YANG et al, 1989).
O binômio extubação precoce / extubação tardia permanece interrogando a correta tomada de decisão. Acredita-se que as taxas ideais de reintubação devam permanecer entre 5 e 15%, porém os autores descrevem 4 a 33% de reintubação (EPSTEIN E CIUBOTARU, 1998; VALLVERDU et al, 1998). A retirada precoce da prótese respiratória pode levar a insuficiência respiratória secundária ao edema de glote e necessidade imediata de restabelecimento da via aérea. Trata-se de uma urgência médica que deve ser tratada com a maior rapidez possível. A reintubação, no entanto, geralmente é um procedimento eletivo e decidido com antecedência. A evolução do paciente para a fadiga respiratória ocorre progressivamente durante algumas horas e a reintubação deve ser realizada nas melhores condições médicas. A necessidade de reintubação aumenta a taxa de pneumonia nosocomial em 8 vezes (TORRES et al, 1992; VALLVERDU et al, 1998) e a mortalidade em 6 a 12 vezes (ESTEBAN