


















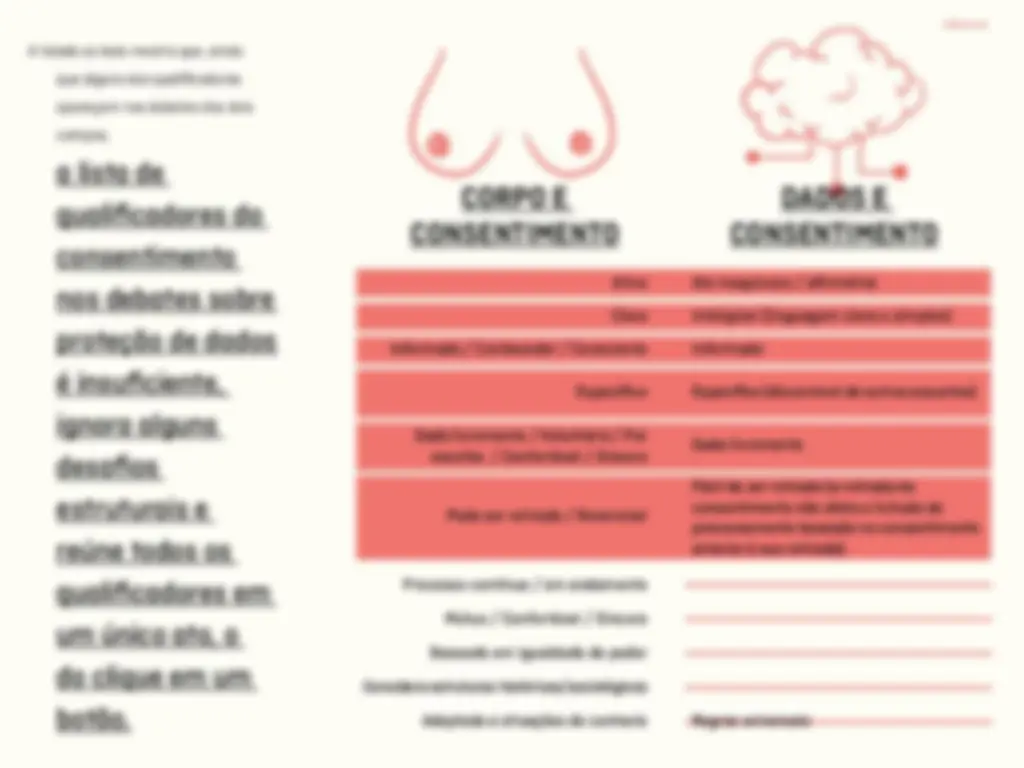





Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Este artigo explora como as teorias feministas contribuem para o debate sobre a proteção de dados e o consentimento, enfatizando a importância de abordar a questão coletivamente. O texto apresenta exemplos práticos e possíveis soluções para as limitações de uma perspectiva individualista do consentimento em interações com nossos dados corporais.
O que você vai aprender
Tipologia: Notas de aula
1 / 30

Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!



















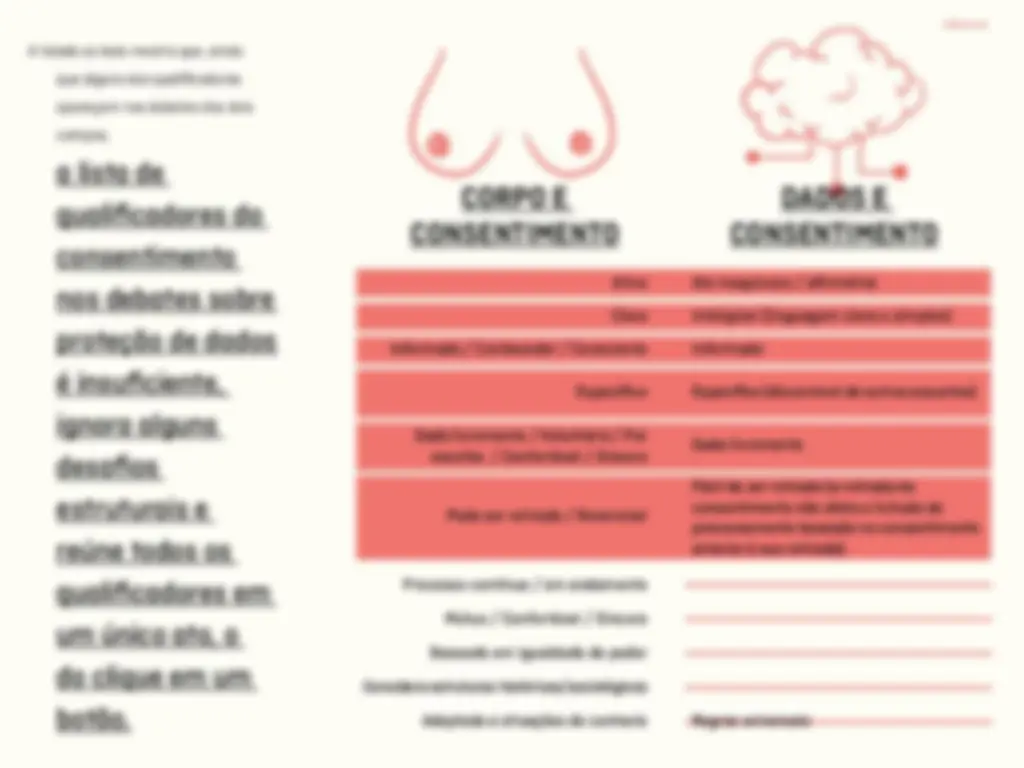



1
Nos debates feministas queer, o princípio do consentimento tem sido intimamente relacionado à integridade física e psíquica. Isso porque, embora tenha diversos significados, interpretações e implicações culturais, o consentimento informado e ativo, quando manifestado em situações de equilíbrio de poder, pode ser visto por alguns como um dos alicerces da garantia dos direitos à autodeterminação, à autonomia e à liberdade. No entanto, assim como o patriarcado tende a baixar o padrão do consentimento em relação ao nosso corpo
Existem situações em nossas interações digitais em que padrões mais rigorosos ou perspectivas mais coletivas do consentimento seriam necessários ou tal princípio vem sendo usado apenas para legitimar abusos? Dos corpos para as telas, nosso objetivo é o de apresentar exemplos práticos que destacam a importância e as graves limitações de adotarmos uma perspectiva individualista do consentimento como única exigência para várias interações com nossos corpos de dados, além de elaborar algumas possíveis soluções.
Em outras palavras, para Pérez,
Essas dimensões do consentimento (como parte exclusivamente das liberdades individuais e
como um verbo feminino) podem ser vistas como naturalizadas, por exemplo, na teoria do direito.
Segundo Pérez (2016), a teoria do consentimento em matéria penal o considera como um ato indi-
vidual de seres humanos livres, autônomos e racionais. Mas ela vê isso como algo problemático
quando refletimos a respeito, por exemplo, do consentimento sexual. Para esta autora, a exclusão
temporária ou total de certas pessoas da capacidade de consentir é um dado importante para
suspeitarmos que o consentimento não é uma capacidade inerente à condição humana (por ex-
emplo, adquire-se essa capacidade apenas com a idade prevista legalmente); portanto, podería-
mos até questionar se todos aqueles legalmente capazes de consentir são realmente igualmente
livres, autônomos e têm a racionalidade para fazê-lo.
Essas premissas representam um problema para o feminismo, pois a naturalização dessa forma liberal de conceber o consentimento tende a ser apresentada como uma espécie de fórmula universalizante onipotente, capaz de resolver tudo. Como afirma Pérez (2016), essa fórmula não leva em consideração as estruturas históricas e sociológicas em que o consentimento é exercido:
Além disso, outra questão persiste: nessa suposição racional, livre e individualista de agentes de consentimento, por que o “não” dito pelas mulheres em situações de assédio sexual é, segundo Pérez (2016), muitas vezes ineficaz? Só podemos entender que a estrutura liberal individualista do consentimento isola o ato de consentimento de sua dimensão simbólica e social e, assim, elimina as relações de poder entre as pessoas. Nesse contexto, Pérez pondera algo essencial: não se trata apenas de consentir ou não, mas fundamentalmente da possibilidade de fazê-lo. Nesse sentido, é interessante recordar o que Sara Ahmed (2017) diz sobre a abordagem interseccional da impossibilidade de se dizer “não”:
“Porque o consentimento é uma função do poder. É preciso ter um mínimo de poder para dá-lo”, diz Brit Marling em um ensaio no The Atlantic chamado “Harvey Weinstein and the Economics of Consent” (2017) (Harvey Weinstein e a Economia do Consentimento, em tradução livre), onde ela destaca como o consentimento está ligado à independência financeira e à paridade econômica. Para ela, no contexto de Hollywood, que, de modo geral, pode ser estendido a outras realidades econômicas, dizer “não”, para as mulheres, poderia implicar não apenas o banimento artístico ou emocional, mas também o econômico. Novamente, aqui está presente a luta contra a ideia do consentimento como uma escolha livre, racional e individual. O consentimento seria um problema estrutural que é experimentado no nível individual .’’ (Pérez, 2016)
Segundo Fraisse (2012),
No mesmo sentido, Lucia Melgar (2012) afirma que, no caso de consentimento sexual, não se trata apenas de um direito individual, mas de um direito coletivo das mulheres de dizer “meu corpo é meu” e, a partir daí, reivindicar liberdade para todos os corpos. Como Ahmed (2017) afirma, “ para o feminismo: o não é um trabalho político”. Em outras palavras, “se sua posição for de precariedade ou incerteza, talvez você não seja capaz de sustentar o não. [...] É por isso que as menos precarizadas talvez tenham a obrigação política de dizer não em nome ou ao lado daquelas que estão mais precarizadas”. Citando Éric Fassin, Fraisse (2012) entende que, nessa visão feminista, o consentimento não será mais “liberal” (como um bordão do indivíduo livre), mas “radical”, porque, como Fassin diria, visto como um ato coletivo, poderia funcionar como um tipo de troca consensual de poder.
Dentro da ideia de relações de poder e consentimento, é importante falar sobre as condições aplicáveis ao consentimento. Nesse contexto, surge a ideia da “ética do consentimento”, que dá atenção às “condições” da prática; a prática adaptada a uma situação contextualizada, rejeitando-se, portanto, regras universais que ignoram as diversas condições de dominação (Fraisse, 2012). No entanto, para autores como Fraisse, a ética do consentimento não pode ser considerada uma questão política, pois carece de uma utopia coletiva em que possamos saber qual transformação social está em jogo e qual futuro representa. Ausente a dimensão política, acrescentaríamos o risco óbvio de a “ética do consentimento” ser capturada por forças hegemônicas.
Muitas das visões críticas sobre o consentimento mencionadas acima começam a marcar presença na discussão sobre proteção de dados e privacidade no contexto das tecnologias digitais. Na realidade, muitos acadêmicos e ativistas estão relacionando influências do feminismo e de movimentos como o #MeToo ou #TimesUp para entender melhor o problema do consentimento no mundo online. Antes de nos aprofundarmos nessa direção, é importante contextualizar qual é o papel do consentimento na proteção de dados e por que, assim como no feminismo, esse conceito está sob forte escrutínio.
$
$
Como registra Hotaling (2008), nos anos 1990, empresas em todo o mundo começaram a investir pesadamente em publicidade online, basicamente devido ao crescimento da infraestrutura em torno da Internet e ao potencial evidente da publicidade online para impulsionar a demanda do consumidor por produtos e serviços: “Ao segmentar efetivamente o público consumidor on-line em grandes blocos discerníveis, o nascimento da publicidade on-line permitiu às empresas atingir seu público-alvo de maneira mais eficiente, gerando receitas mais altas por dólar gasto em publicidade” (p. 533). Logo, como descreve Hotaling (2008), muitas empresas de publicidade on-line começaram a surgir e a oferecer serviços mais complexos: de anúncios em banners em sites à adoção de cookies, empresas de publicidade on-line de primeira geração como a DoubleClick “procuravam combinar os usuários com anúncios apropriados e pertinentes, ao mesmo tempo em que forneciam a seus clientes a visibilidade ideal do anúncio” (p. 535).
2 Concordar com um clique:
o consentimento é uma cilada!
“Enquanto a tecnologia decookies empregada pelos veiculadores de publicidade de primeira geração permitiu o monitoramento de informações demográficas em geral, tais como localização geográfica e tipo de computador, a BT [segmentação comportamenTtal] permite que empresas de publicidade digital avaliem as ações dos consumidores com base no todo maior da atividade de um usuário individual naWeb” (p. 536). Grandes empresas como Google, Yahoo ou AOL começaram a comprar empresas de BT de destaque (Google comprou DoubleClick, em um dos casos mais emblemáticos), apoiando e fortalecendo esse modelo de negócio, elevando a “ BT [segmentação comportamental] a um dos principais meios de fazer o comércio eletrônico passar do modelo de faturamento baseado em assinatura para o modelo baseado em publicidade” (p. 540).
As tecnologias digitais, mas também o próprio modelo de negócios que as sustentam, especialmente online, mudaram a forma como os fluxos de informação são dirigidos. Agora, no mundo digital, produzimos a todo tempo novos e diferentes tipos de informações, incluindo –como afirma Nissenbaum (2011)– “subprodutos de nossas atividades, incluindo cookies, latências, cliques, endereços IP, gráficos sociais reificados e histórico de navegação” (p. 33).
Recentemente, com a ampla repercussão de casos como o escândalo da Cambridge Analytica, em que nossos dados e outras ferramentas de guerra psicológica foram estrategicamente usados para fazer propaganda política, cada vez mais pessoas se conscientizaram dos aspectos negativos do uso de nossos corpos como dados. Muitas organizações da sociedade civil e acadêmicos denunciaram os implacáveis rastreamento e captura de comportamentos on-line, além do modo pelo qual a segmentação diferencial de anúncios, em função de interesses, disposições ou propensões, foi inferida a partir de comportamentos on-line, às vezes reforçando papéis de gênero e/ou promovendo discriminação.
Isso nos mostra que, em alguma medida,
Portanto, ainda que não queiramos entregar nossos corpos como dados de graça, acabamos concordando em fazê-lo. Essa situação representa um problema estrutural que, pelas perspectivas feministas mapeadas acima, não se resolverá no nível individual.
Você pode até ser uma ativista mais experiente em tecnologia e ciosa da privacidade, familiarizada com outras ferramentas mais amigáveis quanto à privacidade, portanto, obrigada politicamente a dizer não ao lado daquelas mais precarizadas em termos de conscientização ou condições de escolher (por exemplo, em comparação a alguém de baixa renda, cuja única opção para acessar um aplicativo de bate-papo é usar o WhatsApp através de polêmicos planos de dados de acesso ilimitado restrito a certos serviços). No entanto, o problema estrutural persistirá, a menos que haja um deslocamento do poder no sentido de permitir a possibilidade coletiva de consentir com algo diferente.
Antes de nos aprofundarmos em todas as críticas ao modelo de notificação e consentimento nas tecnologias digitais, é importante dizer que a ideia de anonimização –ou exclusão de informações pessoais identificáveis ou de dados sensíveis da coleta de dados – também vem sendo posta em xeque. Como Barocas e Nissenbaum (2009) explicam, a anonimização falha em responder às preocupações de privacidade na segmentação e no rastreamento, pois “um perfil detalhado do comportamento on-line de um usuário anônimo pode permitir um nível de discriminação ao qual a pessoa não gostaria de ser submetida. Além disso, pode de fato incluir uma variedade suficiente de informações que, quando combinadas, revelam exatamente o tipo de informação essencial que seria supostamente protegida pela anonimização”.
Em resposta a essa demanda por autorregulação, o próprio setor apresentou iniciativas para mitigar as preocupações com privacidade, como, por exemplo, a Network Advertising (Hotaling, 2008). Neste ambiente de autorregulação, as principais medidas de mitigação têm sido de dois tipos: anonimização e transparência & escolha (também chamada de notificação & consentimento) (Barocas e Nissenbaum, 2009, Nissenbaum, 2011). Para Barocas e Nissenbaum (2009), essa abordagem é especialmente atraente para as partes interessadas e reguladores basicamente porque o modelo de notificação & consentimento –como forma de atribuir controle individual aos usuários– parece se encaixar adequadamente à definição popular de privacidade, entendida como o direito de controlar as informações sobre si mesmo. Da mesma forma, o modelo de notificação & consentimento parece estar em linha com a noção de livre mercado “porque as informações pessoais podem ser entendidas como parte do preço de troca on-line, onde tudo é considerado bom desde que os compradores sejam informados das práticas do vendedor de coletar e usar informações pessoais, e tenham o direito de decidir livremente se o preço é justo” (Nissenbaum, 2011, p. 34).
Para tratar essa situação específica, muitas iniciativas da sociedade civil vêm tentando abordar o problema da coleta e da privacidade de dados por meio da ideia de informar os consumidores a respeito daquilo com que estão concordando. “Terms of Service; Didn’t Read” (Termos de Serviço: Não Li, em tradução livre, ou, na abreviação do original em inglês, ToS;DR) é um exemplo de projeto que visa ajudar a consertar o que chamam de a “maior mentira na rede”: o de acordo que damos o tempo todo aos termos de serviços, que quase ninguém realmente lê. Para isso, eles revisam os Termos de Serviço de serviços populares da Internet e elaboram classificações (ratings) que podem ajudar o usuário a se informar sobre seus direitos. Depois de ler essa análise, o usuário poderia decidir com mais clareza sobre aceitar ou não as condições impostas por uma empresa específica. Iniciativas como essa são importantes e trazem clareza, mas, segundo os agnósticos do consentimento e as abordagens feministas em relação ao consentimento, não enfrentam o quadro geral.
O consentimento significativo exige uma notificação significativa. Na realidade, a informação fornecida a respeito da coleta de dados, seu processamento e uso, tende a ser vaga e genérica. Além disso, de acordo com Cohen (2018), ela funde distinções importantes, cuja compreensão poderia ser útil, tais como as preferências dos consumidores, a criação de perfis preditivos para marketing direcionado e o rastreamento de consumidores em várias plataformas. Como Barocas e Nissenbaum (2014) afirmam: “Podemos entender por que o anonimato e o consentimento atraem tanto interesse: a anonimização parece retirar os dados do escopo da privacidade, na medida em que não mais se mapeiam sujeitos identificáveis, ao mesmo tempo em que permitir aos titulares de informações que deem ou recusem seu consentimento reproduz a visão dominante de privacidade como controle sobre as informações sobre si mesmo. Na prática, no entanto, o anonimato e o consentimento são comprovadamente ilusórios, como os críticos já reiteradamente apontaram problemas fundamentais na implementação de ambos”. (p. 45)